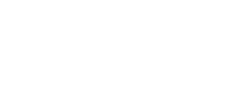
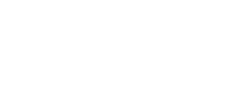
(Este é um texto de 2008, que republico por várias razões; uma é homenagear a argúcia de Mattoso Camara; outra é ir na onda de valorizar Machado; ainda outra é… outra).
Por razões que certamente valeria a pena discutir melhor, ou discutir de novo, as gramáticas citam sempre (e apenas) frases de escritores em abonação às regras que propõem, mesmo que se trate de uma simples concordância de verbo com sujeito. Em vez de “o pato nada / os patos nadam” ou “o juro cai / os juros não caem”, declarações que não precisam de autor, temos de ler que “A chuva caía...” é da lavra de Luandino Vieira. “Sou eu que lhe peço” não é boa porque todo mundo diz, mas porque foi escrita por Castro Soromenho. Por exemplo, apesar de “Tinha uma pedra no meio do caminho” ser um verso bem antigo, o verbo “ter” ainda não mereceu aval das gramáticas nesse sentido e uso.
(Um comentário quase à parte: escritores raramente leem gramáticos; posso ser muito distraído, mas nunca vi informações sobre as gramáticas encontradas nas bibliotecas de escritores; mas eles sempre têm muitos dicionários; parece mesmo que o grande fetiche são as palavras. Já os gramáticos leem escritores, mas não muitos. Ilustrativo é o ensaio de Cláudio Cézar Henriques, “Quando os gramáticos leem os literatos”, publicado na revista Tempo Brasileiro 124, de 1996!! Eles selecionam bem o que citam. Henriques fornece os percentuais de exemplos selecionados de cada um dos poucos, bem poucos escritores.)
Uma das diferenças entre linguistas e gramáticos é o tipo de corpus considerado. Perini (Princípios de linguística descritiva, Parábola, 2006), entre outros, parte de exemplos caseiros (“Papai chegou a São Paulo”, “Os caixotes estão no porão”), enquanto Celso Cunha e Lindley Cintra (mas não só eles) parecem precisar do abono de um falante superior, que o escritor supostamente seria. A coisa funciona assim: se Fernando Pessoa escreveu “Se calhar, tudo é símbolos”, então eu também posso (posso?).
Curiosamente, quem às vezes faz o contrário é o conhecido professor Pasquale. Muitas de suas aulas começam pela menção de um fato em uma letra do Caetano ou do Chico. Segue mostrando como tal construção produz efeitos geniais e, em seguida, quando se espera que ele apoie a “novidade”, vem um “mas, no formal...”. O raciocínio dele é: Chico usou, ficou ótimo, mas você não pode.
Vistas assim, as coisas parecem simples: os escritores abonam as regras e ponto final. Mas não são. Ou deixaram de ser, especialmente depois do surgimento das literaturas realistas ou regionais — o que faz tempo. Qualquer gramático — e leitor — sabe que, se em Inocência, um habitante da terra disser “o que me aflege mais é que…”, essa não é uma construção pertencente ao discurso do narrador (alter ego do escritor/autor?), e, por isso, o falante aprendiz também não tem o direito de usá-la, nem o gramático de aboná-la. Quando um “erro” de escritor pode ser tomado como uma exceção aceitável, eis o problema. Supondo, é claro, que caiba aos gramáticos definir essas regras.
Por exemplo, em Ela, de Rubem Fonseca, podemos ler
Contei para Celina o que acontecera. Ela não acreditava que Gabriel estivesse lendo um livro, disse que ele odiava livros. Acrescentei que era um livro do Machado de Assis e ela fez careta dizendo que quando mandavam ela ler Machado de Assis no colégio ela não conseguia e pedia a uma amiga para lhe dizer qual era a trama do livro, e acrescentou que Machado de Assis era um chato insuportável.
Não fica muito claro, pelo menos para mim, se o narrador é o mesmo em todos os contos (um matador), mas pode ser que sim. Voltando ao ponto: adotando o ponto de vista dos gramáticos, alguém poderia achar que, se Rubem escreve “quando mandavam ela ler Machado de Assis” (em vez de “a mandavam”), então todos podemos usar essa construção. Para um gramático mais comum, pode ser que seja assim. Para um mais arguto, mesmo que seja um gramático, isso não seria óbvio. É que esse “ela” pode ter o mesmo estatuto do “aflege” de Inocência. Ou seja, “mandar ela” está no livro como sintaxe de gente pouco instruída, e língua de gente pouco instruída não recebe apoio de gramático.
Um bom exemplo das dificuldades que um gramático pode enfrentar está em um ensaio de Mattoso Camara, “Um caso de regência” (Ensaios machadianos, Ao Livro Técnico, 1962). É uma questão gramatical que já rendeu polêmica. No texto, Mattoso exibe seu sofisticado talento de analista, de intérprete sutil e sua capacidade de estabelecer uma linha divisória entre as questões de gramática e a da superposição de vozes, que depois Bakhtin tornou clássica.
Mattoso apresenta detalhada e ampla documentação sobre a regência alternativa a/em, “para os nomes de rua e indicação de morada” (coisas como “residente na rua ou à rua”). Depois de constatar que, na matéria, Machado se “opõe, de um lado, ao classicismo de um Odorico Mendes ou um Ruy Barbosa, por exemplo, e, de outro lado, ao arroubo nativista de seu contemporâneo José de Alencar”, Mattoso descobre um fato que outros não tinham percebido.
Machado, diz Mattoso, emprega predominantemente a regência “em” (e aduz uma série de exemplos de obras várias). Mas “em Quincas Borba, ao lado de um emprego constante de em (...), há um exemplo esporádico com a regência de a…
Rubião é sócio do marido de Sofia em uma casa de importação à rua da Alfândega sob a firma Palha & Cia. (p. 131).
Como dar conta desse caso quase isolado? Segundo Mattoso, há uma explicação estilística: “O romancista está assumindo a atitude de intérprete do jargão comercial, numa fórmula nítida de discurso indireto livre” (p. 170). Outro exemplo de emprego da mesma regência empregado por Machado é
“... em casa de Joaquim Soares, à rua da Alfândega” (Pap. av., p. 249).
Esse uso “nada prova”, segundo Mattoso, no que diz respeito ao argumento baseado na autoridade de Machado em favor da doutrina gramatical que defende a regência “a”, pois “é a transcrição de um testamento” e “resulta da observação realista do escritor” (p. 170). Trata-se de um caso não típico de discurso indireto livre (Machado não “cita livremente” a fala de uma personagem, mas o estilo de uma instituição). Mattoso interpreta como discurso indireto livre também outros exemplos encontrados na obra de Machado, deixando evidentes, com isso, dois fatos: que Machado preferia a construção brasileira e que a “regência com a estava se generalizando na linguagem tabelioa” (p. 171). Na linguagem tabelioa, vale a pena insistir.
O que essas análises revelam de mais interessante é a sutileza do texto machadiano, que hoje podemos interpretar em termos de heterogeneidade ou de plurilinguismo — apoiados em Bakhtin. Ou seja, as construções com regência em a são, na obra de Machado, marcas de outro discurso, do discurso de um outro. No caso, da linguagem de determinada esfera social, burocrática, jurídica, cujos textos têm estilos específicos.
O que se pode dizer de Machado se pode dizer de Mattoso: que ele tenha levado a cabo análises como essa pode ser visto como uma evidência de sagacidade. Alternativamente, poder-se-ia dizer que se trata menos de ser sagaz do que de seguir uma ou outra doutrina — em outros termos, trata-se de dispor de teorias melhores. Seguindo uma delas, a de Souza da Silveira, lê-se Machado com olho de gramático, e, encontradas as duas construções, conclui-se que Machado empregava ambas (o que permite fortalecer certa doutrina); seguindo outra, como a de Mattoso, lê-se Machado com olhar do analista dos estilos, o que permite perceber que certas construções não aparecem simplesmente em uma obra, mas que é preciso verificar se ocorrem no discurso do narrador ou no de certas personagens, ou ainda, como é o caso das acima destacadas, se são alusões a uma linguagem burocrática, que elas fazem ecoar. Em outros termos, uma coisa é ver em Machado exemplos de construções aceitáveis, outra é ver nele um escritor realista, posição que o “obrigava” a não esquecer a heterogeneidade da língua.
Resumindo:
Não escrevemos simplesmente em português, e por isso as soluções das gramáticas normativas merecem um olhar mais sofisticado sobre os textos dos escritores que tomam como sua base. Escrevemos em burocratês, em filosofês, em propagandês, em biologês etc. e, portanto, mesmo a questão “pode não pode” merece critérios melhores.
Os gramáticos quase não erram quando se defrontam com estruturas linguísticas populares. Mas nem sempre se saem bem quando encontram diferenças como as que Mattoso percebeu em Machado. Uma óbvia questão de ter boas teorias e de fazê-las render.
 Tweets by @271933053
Tweets by @271933053
