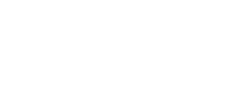
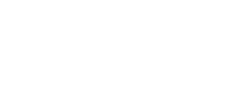
Digamos que você é professor·a de português e uma aluna curiosa e inteligente resolva perguntar: “Por que em casa, cola e cubo o c tem som de [k], mas em ceia e cinto tem som de [s]? Por que escrevemos cinto com c e sinto com s? Não seria mais lógico escrever tudo com s?”. Como você responderia?
Muito do que ensinamos e aprendemos sobre língua na escola se faz na base do “tal coisa é assim e pronto” — explicar que é bom, quase nunca. São fórmulas do tipo: “Diante de e e i, o c tem som de s”. Sim, mas por quê? Por que sinto se escreve com s e cinto se escreve com c? Qual a razão para termos cessão, seção e sessão, se bastaria escrever tudo como sessão? Para que tantas letras e dígrafos diferentes para representar o mesmo som [s]: céu, cinto, aço, isso, só, próximo, nascer, exceto…?
Em praticamente todos os cursos de Letras, temos de fazer um ou dois semestres obrigatórios de latim sem que isso tenha qualquer serventia no que diz respeito à formação docente: decorar as declinações e traduzir fábulas de Fedro pouco contribuem para que a pessoa se conscientize das etapas de formação da língua e, com essa consciência, entenda por que as pessoas têm dificuldades específicas (e previsíveis) no aprendizado da escrita. As aulas de latim deveriam servir para a gente entender as razões e as consequências das mudanças ocorridas ao longo do tempo, seja na fonética, na morfossintaxe ou na semântica, mas isso quase nunca acontece. E o pior é que a justificativa para estudar latim no curso de Letras é que isso nos daria uma base para conhecer… a história do português.
O mesmo vale para as aulas de fonética-fonologia. Talvez por causa da obsessão sincrônica do estruturalismo, ou seja, a concentração exclusiva na língua do aqui-agora, as mudanças ocorridas nos sistemas sonoros das línguas ao longo do tempo não fazem parte do programa da disciplina. Também é preciso lembrar que a maioria das·os estudantes acham o estudo da fonética e da fonologia “chato”, “árido”, quando não “inútil” e outras bobagens do tipo. Ora, o estudo dos sons da língua poderia (pode) auxiliar muitíssimo na hora da gente refletir sobre os equívocos que cometem as crianças e demais pessoas em fase de aquisição da escrita. Mais: a fonética histórica nos ajuda a entender os processos de mudança que estão ocorrendo no aqui-agora, em tempo real, de modo que é fácil entender e explicar um suposto “erro” (escrevi sobre isso faz pouco tempo: https://abrir.link/GQxRH). Com isso, aquela besteira de “esse erro dói no ouvido” se revela o que é: uma besteira, e uma besteira que quem ensina língua não tem o direito de repetir.
Já escrevi sobre a situação dos cursos de Letras no Brasil (https://abrir.link/vqszj), de modo que não vou me repetir aqui. Sobre a confusão entre ortografia e língua, veja aqui: https://abrir.link/PUyBA.
Vamos então aprender por que pronunciamos o c de casa, cola, cubo como [k] e o de ceia e cinto como [s], fazendo abstração — por um momento — de tudo de ruim que significa ser professor·a hoje no Brasil.
O nome do orador Cícero (106-43 aec) se pronunciava, na época em que viveu, [kikero]: o alfabeto usado pelos romanos naquela fase histórica tinha uma única letra, o c, para representar o som [k], independentemente da vogal que viesse depois. Se queriam representar graficamente as sílabas [se] e [si], os romanos usavam, claro, se/si. Assim, census (‘censo’) se pronunciava [kensus], enquanto sensus (‘senso’) se pronunciava [sensus]. Isso revela que nossa pronúncia atual de ce e ci como [se] e [si] é um fenômeno posterior à época de Cícero, resultado de uma evolução ocorrida no fio dos séculos. Qual a explicação para isso? Aqui é que entra o conhecimento da fonética.
O som [k] é produzido na região velar da nossa boca, isto é, no véu palatino (você nem desconfiava que tem um véu dentro da boca, né?). O termo palatino tem a ver com palato, aquilo que chamamos poeticamente de céu da boca. Quando essa consoante [k] se combina com as vogais que escrevemos a, o e u, ela conserva sua qualidade velar. No entanto, quando as vogais são as que escrevemos como e e i, o [k] sofre o processo chamado palatalização, porque essas vogais são pronunciadas numa área próxima de onde é pronunciado o [k] (tecnicamente, são vogais frontais). Preste atenção ao modo como você pronuncia [ka], [ko] e [ku]. Agora compare com a pronúncia de [ke] e [ki]. Nessas duas últimas sílabas a gente percebe um “soprinho”, que não ocorre em [ka], [ko] e [ku]. Pois é justamente esse soprinho que vai causar uma série de mudanças na formação das línguas românicas (derivadas do latim), mas de muitas outras também, porque essa palatalização de [ke]/[ki] é uma tendência geral na articulação dos sons de incontáveis línguas.
O [k] das sílabas [ke] e [ki] é um [k] especial e merece um símbolo especial para ele, que poderia ser [kj]*. Vamos então escrever [kje]/[kji], com esse jotinha pendurado no alto simbolizando a palatalização. O tempo vai passando e essa palatalização acaba transformando [kje]/[kji] em [tse]/[tsi]. O soprinho se transforma numa consoante [s], que não por acaso se chama mesmo sibilante, enquanto o [t] parece “ajudar” a expulsar o soprinho melhor do que o [k].
Temos assim uma primeira fase [tse]/[tsi]. Ela vai ser o ponto de partida para as mudanças ocorridas em cada língua românica. No que diz respeito à escrita, porém, a grafia não se alterou: apesar das mudanças ocorridas na pronúncia, continuou-se a escrever ce e ci, conservando-se a grafia da época de Cícero.
Em italiano, o resultado do processo foi a pronúncia [tʃ] (como em tcheco), de modo que cena (‘ceia’) e cinto (‘cinto’) se pronunciam [tʃena] e [tʃinto]. Em francês, espanhol e galego (o ancestral do português), a pronúncia mais antiga foi [tse]/[tsi]. Num remoto passado, o que se escrevia ceia e cinto em terras galego-portuguesas se pronunciava [tseia] e [tsinto]. Nessa fase medieval, a pessoa que tinha de escrever cinto ou sinto não tinha dúvidas, porque cinto soava [tsinto] e sinto, [sinto].
Mais adiante no tempo, em português e francês, o [ts] se simplificou em [s], de modo que dizemos ceia e cinto, assim como em francês se pronuncia cène (‘ceia’) e cinéma com [s] inicial. Em inglês, por influência do francês, ce/ci também se pronunciam com [s]: cent (‘centavo’) [sent] e cinders (‘cinzas’) [sındərs].
Em espanhol (e galego), o [ts] sofreu mudança diferente: o grupo consonantal se simplificou na forma da consoante interdental cujo símbolo fonético é [θ] e está presente no inglês think, uma consoante que se pronuncia com a ponta da língua entre os dentes. No espanhol peninsular (que é como a gente chama o espanhol da Espanha), o que temos hoje é cena [θena] e cinto [θinto], assim como em galego cea [θea] e cinto [θinto]. Mas a interdental não está presente na fala de todos os muitos milhões de falantes de espanhol: nenhuma variedade de espanhol da América Latina apresenta a interdental; mesmo na Espanha há variedades em que ce/ci se pronunciam exatamente como em português. O mesmo vale para o galego: há variedades em que não ocorre a interdental.
Uma conclusão que se tira de tudo isso, como já vimos, é o conservadorismo das ortografias. Em todas as línguas citadas, apesar das mudanças fonéticas ocorridas, ainda se escreve ce/ci em respeito ao modo como se escrevia Cicero, cena, cinctus etc. em latim, dois mil anos atrás.
O cê-cedilha tem a mesma origem. Os grupos latinos te+vogal, ti+vogal, de+vogal e di+vogal também resultaram em [ts]+vogal. Para representar esse som duplo diante de a, o e u adotou-se o ç: praça (< platea), caçar (< captiare), ouço (< audio), força (< fortia), poço (< puteu), graça (< gratia), março (< martiu) etc. Todas essas palavras, na alta Idade Média, tinham um [ts]. É por isso que toda essa grande quantidade de substantivos abstratos terminados em -ção se escreve com ç: a terminação latina era -tione-, com um -tio- pronto para se tornar ç: ação (< actione-), nação (< natione), seção (< sectione), função (< functione) etc.
Em italiano, a letra adotada foi o z (depois de consoante) ou zz (entre vogais) que até hoje se pronuncia [ts]: marzo, forza, pozzo (‘poço’) etc. Em espanhol (e galego), o resultado foi, de novo, a interdental, que se representa na escrita com z, pronunciado [θ], mas, como se viu, não na América Latina nem em outros variedades do espanhol peninsular (e do galego): plaza, cazar, fuerza, pozo, marzo etc. São essas as explicações para as diferenças gráficas de cessão, sessão e seção.
A ortografia do italiano é a mais racional das línguas românicas (ao lado da do romeno, inspirada na do italiano): o que se escreve ce/ci se pronuncia sempre como [tʃe]/[tʃi], enquanto o c tem som [k] diante de a, o e u. Ou seja, em italiano não ocorre a hesitação que temos na hora de escrever palavras com [se]/[si], não existem grafias diferentes como cessão, seção e sessão para uma mesma realização sonora: o [s] inicial é sempre s, e entre vogais é ss. No espanhol peninsular considerado padrão, pode existir hesitação porque a letra z ali também se pronuncia como [θ], como uma interdental: cenizas (‘cinzas’) [θeniθas]. Nas variedades latino-americanas, a hesitação é ainda maior porque ce/ci, z e s têm a mesma pronúncia [s]: cenizas [senisas]. Em francês também existe duplicidade de grafia: cette (‘esta’) e sept (‘sete’) se pronunciam igualmente [sɛt].
A ortografia dá testemunho da história das sociedades e suas línguas, junto com o investimento cultural e social (e, por que não, político e até, às vezes, religioso) que se fez (e se faz) em torno do domínio dessa tecnologia fundamental nas sociedades grafocêntricas que é a escrita. Se ficarmos só nas línguas europeias, vemos diferenças importantes.
A ortografia do francês, por exemplo, saiu ilesa da revolução de 1789 que derrubou a nefanda prisão da Bastilha e guilhotinou um monte de clérigos e aristocratas, incluindo o rei e a rainha. Apesar das reviravoltas ocorridas entre o período revolucionário e a ascensão de Napoleão ao poder, em nada se modificou a ortografia clássica, uma herança da Academia Francesa, fundada em 1635, em pleno regime monárquico absolutista e que continua a ser uma instituição intrinsecamente conservadora. Assim, até hoje, a ortografia do francês conserva uma afetação aristocrática que combina com todos os babados, laçarotes, fru-frus, perucas, anquinhas, saltos altos e outros badulaques usados pela nobreza pré-revolucionária: a revolução política, que abalou as estruturas da sociedade francesa, não teve uma contraparte revolucionária na ortografia. Por isso, a palavra roi (‘rei’) se pronunciava [roi] no século 13, [rwɛ] (“rué”) no século 16 e [rwa] (“ruá”) a partir do século19, mas a grafia permanece roi há 600 anos! Célebre é a palavra oiseaux (‘pássaros’) que se pronuncia [wazo]: nenhuma das letras ali tem seu valor alfabético, isto é, o o não é [o], o i não é [i], o s não é [s] e por aí vai!
No caso do inglês, a ilogicidade chega ao paroxismo, como muito bem sabe quem tem de aprender a língua. Basta dizer que em I read, o grupo escrito ea do verbo (read) pode ser pronunciado como [i] ou como [ɛ] (nosso é de café): no primeiro caso significa ‘eu leio’, no segundo significa ‘eu li’, mas a escrita não se altera! Leia-se com um barulho desses! Famoso é o caso do grupo escrito -ough que pode ter nada menos do que 9 (nove!) pronúncias diferentes.
Resultado: se uma falante de italiano ouvir pela primeira vez uma palavra até então desconhecida para ela, a chance de saber como a palavra se escreve é de 95%, no mínimo. Isso é impossível em francês: se a palavra tiver o som [o] no final, ele pode vir representado por o, au, aux, eau, eaux, ot, od… O mesmo se dá em inglês, onde o som [i] pode ser representado por e, ea, ee, ie, y… menos pela letra i, que representa outros sons!
A ortografia talvez mais próxima da relação 1:1 — isto é, uma letra = um som —, é a do finlandês. Deu inveja? Pois esse paraíso ortográfico, no entanto, se revela um pesadelo para quem tentar aprender a língua que, não sendo indo-europeia (é uma língua fino-úgrica), tem uma gramática de fazer arrancar os cabelos (de quem não fala línguas fino-úgricas, claro): as palavras se declinam em 15 casos diferentes, os sons estão sujeitos a um fenômeno chamado harmonia vocálica e, por ser uma língua do tipo aglutinante, é possível toparmos com palavras como peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, ‘autoridade municipal conjunta de serviços básicos’.
A consequência dessas diferenças é que uma criança italiana ou finlandesa se alfabetiza em muito menos tempo do que uma criança de língua francesa ou inglesa. Afinal, como é que a pobre criancinha francófona vai adivinhar que beaucoup (‘muito’) tem 8 letras para representar a exata metade de sons [boku]? Ou como a criancinha anglófona vai sonhar que existe night (‘noite’) e knight (‘cavaleiro’), com pronúncia igual [nait], apesar de um k completamente alienígena na segunda palavra (sem mencionar a doideira de igh para representar o ditongo [ai])?
Seria então desejável que nos aproximássemos ao máximo da proporção 1:1 (uma letra = um som)? No melhor dos mundos, seria. Isso facilitaria o aprendizado da escrita? No mesmo melhor dos mundos, facilitaria. Mas o que o mundo real nos ensina é que toda língua apresenta variação e que nenhum sistema ortográfico (nem o do italiano nem o do finlandês) dá conta de representar as múltiplas realizações dos sons de uma língua em todas as comunidades em que é falada. Como representar na ortografia, por exemplo, o “s chiado” carioca de festas? Ou o “r caipira” de muitas regiões do país? Ou as muitas e várias realizações do que se escreve r ou rr? Será que há necessidade disso?
A decisão sobre o que vai ou não ser representado na escrita, e como vai ser, decorre de fatores históricos os mais variados. Além do vínculo com a etimologia, a ortografia também se baseia no modo de falar de uma região e/ou de uma classe social, quase sempre da região onde está o centro do poder político e da classe social dominante. No caso do francês, a ortografia foi elaborada no apogeu do regime absolutista e servia (e serve) como fator de distinção social, o que garantiu (e garante) a permanência das incontáveis ilogicidades gráficas da língua.
No caso do português, a ortografia chamada etimologizante — na qual se escrevia pharmacia homoepathica, cysne, offerta, thesouro etc. —, que vigorou durante muito tempo, sofreu uma limpeza profunda que a livrou de todos esses penduricalhos obsoletos. Quando ocorreu essa limpeza? Em 1911, um ano depois da proclamação da República em Portugal. A adoção de um regime político moderno impulsionou a modernização da ortografia. A decrépita physica ardeu em chamas, e das cinzas surgiu a elegante física, que acenou toda feliz para suas primas espanhola (física), italiana (fisica) e romena (fizică), embora com certa inveja da coragem da romena que exibe, sem o menor pudor, sua fízică com z!
O mundo real também nos ensina, finalmente, que o aprendizado da escrita independe do grau maior ou menor de racionalidade da ortografia de uma língua. Comparada com a do inglês e do francês, a ortografia do português tem um bom grau de racionalidade. No Brasil, porém, 46% da população não têm a escolaridade básica completa (isto é, até o final do ensino médio), o que se reflete no elevado número de pessoas analfabetas funcionais, às quais vêm se juntar as analfabetas plenas, que ainda são milhões. Enquanto isso, o Japão, cuja língua conta com um sistema de escrita dos mais complicados do mundo, tem 99% de sua população plenamente letrada, mesmo percentual da China, com um sistema de escrita igualmente complexo e uma população que ultrapassa o bilhão.
Em outras palavras: o grau de letramento de uma população depende das políticas públicas de educação e, também, de uma boa formação docente. Coisas que o Brasil nunca teve, não tem e, se depender das forças obscurantistas e retrógradas que dominam cada vez mais nossa sociedade, provavelmente jamais terá.
******
[*] Agradeço ao colega Luiz Carlos Schwindt (UFRGS) a sugestão de usar o símbolo [kj] para representar a palatalização do [k].
[*] Clique na capa e conheça o lançamento de abril de 2024 da Parábola Editorial.
 Tweets by @271933053
Tweets by @271933053
