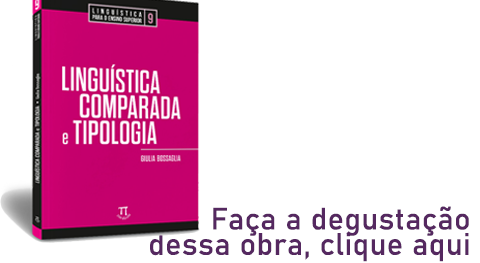Francisco Calvo del Olmo
Non ut per tenebras uideamus, sed ut ipsas (“que nós vejamos não através das trevas, mas as próprias trevas”).
Com esta frase — traduzida livremente do latim — decidi iniciar o segundo post da linha aberta semanas atrás entre a etimologia, ciência que estuda a origem das palavras, e os assuntos da atualidade. A proposta é tentar enxergar as trevas, abrir os olhos e a consciência, para examinar um contexto pautado pela morte e pela desumanização. No dia 25 de maio, na cidade de Minneapolis (EUA), George Floyd, homem negro de 46 anos, teve uma parada cardiorrespiratória depois que o policial branco Derek Chauvin se ajoelhou sobre seu pescoço esmagando-o por oito minutos. I can’t breathe (“não posso respirar”) conseguiu articular Floyd, mas seu assassino, Chauvin, não viu a dor dele nem escutou a súplica. No dia 4 de junho, o Brasil bateu o seu recorde de vítimas da COVID-19 com 1.349 pessoas falecidas em 24 horas (provavelmente esse recorde terá sido ultrapassado quando vocês lerem estas linhas), a morte como consequência do destino — e esse desde sempre é cego — foi tudo o que teve a dizer quem ocupa o cargo da máxima autoridade e responsabilidade na República.
A frase que abre este post está numa das cartas do escritor Lúcio Aneu Sêneca, nascido em Córdoba, na Península Ibérica, aproximadamente no ano 4 antes da era comum e morto em Roma, em 65, depois que o imperador Nero — o mesmo que mandou incendiar a capital do Império — o convidou a se suicidar (uma forma de terceirizar a violência no Estado romano em troca de uma morte minimamente digna). Assim findou a vida de um dos mais célebres advogados, filósofos e intelectuais da latinidade, mas suas obras chegaram até nós, destacadamente as tragédias. Como filósofo, Sêneca abraçou a doutrina dos estoicos, que enfatizava a paz de espírito e aceitava de maneira serena as circunstâncias adversas da existência. Sêneca não temeu olhar as trevas, e a luz das suas palavras continuou brilhando por muitos séculos, iluminando os tempos — às vezes sombrios e às vezes felizes — que viriam depois. Ver, enxergar, condição necessária para conhecer, para entender e, então, agir.
O verbo ver faz parte do vocabulário nuclear de qualquer língua, daquelas palavras que aprendemos logo que abrimos pela primeira vez nossos olhos e nossas bocas ao mundo. Por isso, é bastante lógico que existam cognatos nas demais línguas da família românica: em galego e espanhol ver, em catalão veure, em occitano veire ou véser, em francês voir, em italiano vedere, em sardo biri ou idere e em romeno a vedea. As palavras atuais mantêm vivo o étimo latino VĬDĒRE, verbo da segunda conjugação, enunciado, de acordo com a tradição dos estudos clássicos, da forma seguinte: uĭdĕo, uĭdes, uidi, uisum, uĭdēre. Dessa mesma raiz, deriva toda uma série de vocábulos, também presentes nas demais línguas românicas: visar, vista, viso, visão, viseira, vidente, vedor/a (sinônimo de fiscal), visitar, visita, avisar, aviso, evidente, evidência, prever, previsão, prover, provisão, prudente, prudência, revista, supervisionar, supervisor/a, invejoso/a, invejar e inveja (de ĭnuĭdēre, “olhar torto ou atravessado”). A forma do francês voyeur, “alguém que vê”, entrou como empréstimo para falar daquelas pessoas que sentem excitação espiando ou observando outras pessoas enquanto têm relações sexuais. Por outro lado, visa, tomado do latim moderno charta visa (literalmente “papel visto”) através do francês no século XIX, passou a nomear os documentos costurados pelas autoridades de um país nos passaportes para permitir a entrada e a permanência de cidadãos estrangeiros.
Todavia, nossa visão não se detém na forma do étimo latino e decide penetrar na noite dos tempos, nas trevas etimológicas que precedem os documentos históricos escritos, sempre à procura da raiz indo-europeia. Essa busca não é em vão, pois logo encontramos o sânscrito veda (com o sentido de “eu sei”), avéstico vaeda (“eu sei” também), grego antigo εἰδέναι (transliterado eidenai, “saber”), armênio գիտեմ (transliterado gitem, “eu sei”), gótico weitan (“ver”), irlandês fis (“visão”), lituano vysti (“ver”), polonês widzieć (“ver”) e wiedzieć (“saber”). Comparando todas essas formas, conseguimos formular o étimo *weid- como denominador comum, palavra que nunca ninguém escreveu e, por isso, está marcada com um asterisco. Uma vez estabelecida a forma, podemos comparar o significado, encontrando nele dois valores sobrepostos: ver e saber, ou melhor, ver como fonte primária para saber ou conhecer algo. De fato, algumas línguas, como o mati — falada pelos aproximadamente quatrocentos membros do povo mati no Vale do Javari, na Amazônia, entre o Brasil e o Peru —, podem modalizar os enunciados conforme o falante tenha presenciado, visto e conhecido diretamente o fato narrado ou não, se, nesse caso, lhe foi reportado por outra pessoa, ouvido ou deduzido.
A coleção dos textos védicos, escritos em sânscrito na região do atual Paquistão 1.500 anos antes da era comum, é um conjunto de hinos religiosos que reúne precisamente o conhecimento, retomando a raiz indo-europeia. O primeiro deles é o Rigveda, transliteração de ऋग्वेदः, ou seja, o veda, “o conhecimento” dos hinos. Ademais, estes textos sagrados serviram como uma das fontes principais para a reconstrução do protoindo-europeu, pela sua própria antiguidade.
Outros povos indo-europeus demoraram vários milênios a mais para adotar a escrita, talvez desconfiados de que esse suporte pudesse se voltar contra eles se os saberes e as tradições caíssem eventualmente em mãos inimigas. E os druidas celtas — sacerdotes e sábios — continuavam a transmitir seus conhecimentos de boca em boca no tempo da invasão romana comandada pelo general Júlio César, no ano 58 antes da era comum. Precisamente, os druidas (adaptado em latim druidēs do gaulês, irlandês antigo druí, galês dryw, córnico dru) eram aqueles que possuíam o conhecimento das árvores: palavra composta *dru-wid-, reconstruída sobre as raízes *derwos “árvore/carvalho” + *weid- “saber/ver”.
Passando do galho das línguas célticas ao galho das línguas germânicas, essa mesma raiz teve ampla difusão: o alemão wissen “saber, conhecer” e weisen “assinalar, mostrar”, assim como o inglês wise “sábio, inteligente” e wisdom “sabedoria” procedem dela. Curiosamente, uma variedade de germânico, o frâncico — língua dos francos, que se instalaram na província romana da Gália no século V, dando origem à França — emprestou o verbo *witan “mostrar o caminho” ao latim vulgar falado pela população galo-romana. Dela procede o francês guider, donde entraria nas outras línguas românicas: português, galego, espanhol e catalão guiar, italiano guidare (atualmente tem o sentido de “dirigir”, “guiar um carro”), romeno a ghida e inclusive no inglês to guide. Desse verbo derivam outros vocábulos como o substantivo guia e também guisa (sinônimo de maneira ou modo usado sobretudo na expressão à guisa de). O étimo produziu até um nome de pessoa: Guido em italiano, cognato do francês Guy, que também passou a ser usado na Inglaterra. Esse era o nome de Guy Fawkes, líder da Conspiração da Pólvora que pretendia explodir o Parlamento britânico com o monarca dentro no dia 5 de novembro de 1605. Esse personagem seria homenageado na série de histórias em quadrinhos V de Vingança, escrita por Alan Moore com desenhos de David Lloyd, que acontece numa versão do Reino Unido distópica e autoritária. Em muitas línguas, um nome bastante comum ou popular acaba sendo usado para designar um indivíduo qualquer (como o português Zé Ruela ou Zé Ninguém), em inglês americano, guy passou a significar “camarada” ou “cara” no século XIX e continua sendo muito usado com esse sentido pelos falantes das diferentes variedades de inglês.
Bem, o percurso que examinamos mostrou como a palavra acompanhou as populações falantes de latim e, depois, das línguas românicas de geração em geração e como ela entrou novamente como empréstimo germânico, com uma forma e um significado diferentes. Mas a história não termina aqui, pois a cultura latina já vivia em simbiose com a cultura grega, antes de entrar em contato com os povos germânicos do norte. Como dissemos, o étimo indo-europeu tomou no dialeto ático do grego, falado na cidade de Atenas, a forma εἰδέναι (transliterado eidenai), donde deriva ιδέα (transliterado idea, ou seja: “ideia”). Para Platão, existem em nós princípios universais projetados pelas coisas que percebemos no mundo inteligível. Assim, a ideia de uma coisa é projeção da imagem, do saber. Por isso, esta doutrina é chamada de “idealismo”. Já Aristóteles entende que as coisas emitem imagens de si próprias assimiladas pelos sentidos e interpretadas pelo saber inato ou adquirido, essas são as ideias. Alguns séculos mais tarde, Cícero toma o termo do grego junto com o conceito para nomear a ideia platônica que é o arquétipo. Ainda dessa mesma raiz procede ídolo, originalmente representação mental ou fantasma, e caleidoscópio, aqueles tubos que formam imagens harmoniosas mediante um jogo de espelhos (cal-eido-scópio de kalos “belo, bom” + eidos “imagem” + -scope da raiz *spek- que significa “observar”). Mas, em grego, a raiz *weid- produziu também ἱστορία (transliterado historía). Esse termo, significava originalmente “conhecimento adquirido por inquérito” e daí passou para “relatório”, “relato de fatos cronológicos” — a nossa história — e “narrativa”, ou seja estória, como explica o fantástico Online Etymology Dictionary (disponível em: https://www.etymonline.com/search?q=history acesso em 4 jun. 2020).
Conhecer nossa história serve para entender a nós mesmos, pesquisar nas trevas do passado para enxergar as névoas do futuro e evitar os precipícios da ignorância e do fanatismo enquanto indivíduos, comunidades e sociedades. Conhecer a história das palavras que nos acompanham no dia a dia, que articulam nossas ideias, para vê-las com um novo olhar. É impossível saber como soou exatamente a antiga raiz *weid- nas bocas daqueles primeiros indo-europeus que viajavam a cavalo pelas estepes da Rússia, mas uma multidão de vocábulos faz ecoar aquele termo, ajudando a guiar o pensamento do nosso mundo e do nosso tempo.
Hoje, mais do que nunca, é necessário aprender a olhar as trevas em que estamos sumidas, abrir os olhos e o conhecimento para evitar a cegueira coletiva, para poder respirar! José Saramago publicou em 1995 o Ensaio sobre a cegueira e, em 2008, Fernando Meirelles o adaptou ao cinema com o título de Blindness. Essa narrativa visionária nos fala de uma misteriosa pandemia que torna as pessoas cegas. Para recuperar a lucidez, será necessário resgatar a piedade, a solidariedade e a coragem. Saramago trouxe uma frase do Livro dos conselhos como epígrafe para abrir o seu romance: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”.